
A Brotéria entrou em 2023 com o desejo de cultivar a atenção a bons lugares e de se implicar mais conscientemente na sua construção e no seu cuidado. No editorial do número de janeiro, intitulado “Eutopos”, o P. Francisco Mota SJ escrevia que, mais do que um sítio, o lugar «é a possibilidade de tornar real, concreta, tangível, a visão que se tem para o mundo». Se as boas intenções não chegassem a ganhar forma em lugares reconhecíveis e habitáveis e em modos justos de os habitar, seriam tão só utópicas, «intenções vagas, apenas sonhadas, sem forma». Dessas, como diz a sabedoria popular, “está o inferno cheio”. «Eternamente adiadas», acabariam por ser «motivo de frustração e destruição», diluindo-se em não-lugares de vazio e de abandono ou degenerando em maus lugares, distopias diabólicas que se organizam como estruturas de mal que fazem mal.
Explorando este filão, identificamos quatro parábolas para o desenho de um bom lugar, quatro coordenadas para reconhecer, edificar e cultivar lugares bem situados – valem tanto para o registo pessoal e existencial como para o comunitário, o político ou o eclesial; servem de referência para a escrita da própria biografia como para desenvolver um projeto educativo: a origem reconhecida como promessa e motivo de memória grata; o porvir que atrai como melhor que ainda está para vir e que empenha a liberdade; a altura como abertura ao transcendente que ressoa em apelos que convocam, provocam e pedem responsabilidade; o fundo da finitude e dos limites humanos a reconhecer e a confessar com humildade. Parábola evoca aqui o lugar geométrico, mas, sobretudo, as narrativas evangélicas breves que convocam e condensam as dimensões e as dinâmicas mais elementares da existência humana. O “bom” que qualifica o “lugar” dá-se e faz-se como qualidade humana do espaço de tensão que se abre entre as parábolas.

A primeira parábola é a da origem e da memória. Somos filhos e filhas, dados à vida e depositários de uma herança: a estrutura física e psíquica de cada um, a família, a língua, o lugar de nascimento, a nacionalidade, a história. Constitui-nos uma passividade incontornável. Somo precedidos e predispostos. Antes de aprender a conjugar os verbos na voz ativa, somos conjugados na voz passiva. Somos amados (não amados, por vezes), gerados, dados à luz da vida e expostos à cultura, alimentados, ensinados, iniciados à história que nos precede. Nesta voz, poderemos arriscar dizer que tudo é graça. Mas se com o nascimento vem o cheque a levantar, sem nada se ter feito para o receber, já vem também a cobrança que obriga a fazer contas e a fazer-se à vida. Vêm créditos e vêm dívidas, possibilidades e condições. O corpo, os pais, a história de família, as vicissitudes do país, a história da humanidade. Tanto e tão pouco. A herança recebida é, contemporaneamente, promessa que abre e capacita e estigma que inibe e impede. Por isso, com a graça da vida vem também a tentação. Porque tudo é imposto. As promessas da vida inscrevem-se em premissas não escolhidas e não evitáveis. A liberdade fará, por isso, o seu caminho sobre uma corda bamba, oscilando, ora para o dom a reconhecer, ora para a imposição a lamentar. O que cada um recebeu, o que cada época herdou, é bastante para despertar gratidão e abrir possibilidades inéditas ou é demasiado pouco para que valha a pena empenhar-se em algo melhor? A parábola da origem é, por isso, parábola da memória que pode ser grata ou ressentida, que pode gerar confiança ou mover à regressão. Mas o seu direito está no reconhecimento e na promessa. São estes que bem dispõem e que habilitam a corresponder de forma responsável. A memória será, assim, tanto mais fecunda quanto mais cultivar a gratidão – a má memória gera desconfiança, ressentimento, paralisia, desistência, tudo venenos que infetam o corpo e o espírito e inibem a implicação num futuro promissor. Pelo contrário, reconciliar-se com o património herdado favorecerá a honestidade, a criatividade, a retidão de vida. Vale para uma pessoa, vale para uma instituição, vale para um país. Não se faz de conta de que o custo e o limite não existem ou de que não são difíceis de reconhecer e duros de suportar – tem-se bem presente que com a graça de ser dado à luz vem a imposição à vida – mas ergue-se em liberdade sobre as coisas que são como são, empenhando-se responsavelmente no bem possível. Eis, pois, que, quanto melhor “filho” ou “filha” se é, melhor “pai” ou melhor “mãe” se será do próprio futuro e do futuro partilhado. O cuidado honesto com a qualidade da memória será garantia de compromisso esperançoso, sem deixar se der realista, com o que virá.
Em tensão com este polo, desenha-se a promessa do futuro confiado à liberdade. Não é sem motivo que, nas Escrituras Hebraicas, o povo de Israel seja o povo da promessa, precisamente, porque é povo de memória. O dom reconhecido alicerça a esperança e aviva o desejo, expande a imaginação e abre ao porvir. Assim se faz tarefa responsável. Sabemos que o que somos não vem apenas do que recebemos, mas do que temos diante de nós e nos espera a partir do futuro, em cuja construção nos implicamos. A forma que uma existência ou uma comunidade assumirão será também fruto da sua imaginação e do seu desejo, de como projetarem e se edificarem. Parafraseando Stella Morra, do artigo que publicámos também no passado número de janeiro, “Humanos sexuados: rosto, género e diferença”, o que somos não está apenas escrito nas nossas costas, mas está diante de nós e será fruto da escrita que resultar dos nossos próprios passos (para um cristão, chegar à forma de Cristo que nos espera do futuro não diz menos sobre a identidade do que ter sido criado à imagem e semelhança de Deus). Eis, pois, que sendo dados à luz e impostos à vida, cabe-nos amar, gerar, alimentar, ensinar, criar cultura, ser autor da história. O bom administrador não é aquele que guarda no bolso o que recebeu, com medo de o perder, mas aquele que o investe e se investe a si mesmo nos investimentos que faz – empenhar-se significa isso mesmo, pôr-se a si mesmo como penhor, como garantia da própria palavra ou ato. Não será fiel se apenas proteger e conservar o património herdado e, assim, se proteger do risco do incerto. Sê-lo-á se o cultivar e o recriar com outros, com liberdade e responsabilidade, ao seu modo, segundo as suas possibilidades.
A terceira parábola abre para o alto, para o que abre, o que faz respirar, o que eleva. Na teologia cristã aprende-se que a graça eleva. É gratia elevans. Entre herança e horizonte, levantamo-nos do chão e ficamos direitos sobre os próprios pés. Somos capazes de ver mais longe, de apreciar e de cantar, de nos maravilharmos e de rezar. Compreendemo-nos abertos, postos diante de algo maior do que nós, que nos transcende e implica a nossa liberdade. Se somos seres responsáveis por alguma coisa, não o somos menos diante de alguém ou de uma instância que nos convoca e nos provoca a dar uma resposta em primeira pessoa: a consciência, os outros, a lei, Deus. Compreendemo-nos expostos a uma palavra nos vem de fora, que ressoa e nos implica dentro, e que nos abre à relação. O logos implica-nos no diálogo: ora nos comove e nos declara amor, ora nos interpela sobre o lugar onde estamos e onde estamos em relação aos outros e à natureza, ora nos acusa de surdez, de indiferença e de irresponsabilidade. Somos homens e mulheres de palavra – escutada, dita, escrita –, destinatários de múltiplos apelos, claros ou sussurrados, uns que acariciam outros que ferem. Na realidade, é a palavra e são as relações justas que a palavra gera que nos dá lugar na vida. Por isso, é tão vital para qualquer pessoa ou comunidade exercitar-se na disciplina da escuta e na interpretação das ressonâncias, assim como o é ser escutado e ter voz. Mas claro, pode sempre cair-se no fechamento narcisista ou autossuficiente sobre si mesmo e na coisificação da realidade. Pode sempre cair-se na surdez e na mudez, na tentação de impedir a palavra ou de abusar dela, de se refugiar no monólogo e de se furtar ao diálogo, de se esquivar à escuta e de fugir à palavra franca.
Em direção ao mais baixo, no polo oposto, desenha-se a parábola do limite da própria finitude, do lado sombrio e doentio de cada um de nós e das nossas instituições, dos traumas e das regressões pessoais e coletivas. Pode acontecer que a luz não seja suportável, que pareça melhor suspender a vida que assumir o risco de viver, quando o custo da imposição à vida fala mais alto que a graça de ser dado há luz, quando a herança ou a biografia passada se tornam pesos insuportáveis em vez de serem oportunidade de recomeço. Há momentos em que o futuro parece lugar indesejável e tarefa impossível. E não é simples ser pessoa de palavra, sempre verdadeira, sempre justa, sempre responsável. Estar sempre à altura da vida, da palavra, nas relações pode ser demasiado custoso. E quem pode estar diante de Deus, o totalmente outro, sem ser atingido? Aí, a gruta, com as suas muitas formas, faz-se lugar de regressão. Não deixa de ser curioso, porém, que, por exemplo, na biografia de muitos santos, a gruta, a caverna, a escuridão, a noite se tenham tornado lugares de grande vitalidade, abismos que se revelaram pontos de elevação. Precisamente, nesses estádios profundos foram postos em contacto com correntes subterrâneas com grande pressão. S. Bento e S. Francisco de Assis, S. Inácio de Loyola, S. Teresinha de Lisieux e S. Teresa de Calcutá, entre outros e outras, tiveram os seus tempos de caverna e foi dessa profundidade sombria e dolorosa que se reergueram com uma vitalidade e criatividade que marcaram profundamente as suas biografias, os seus tempos e a história futura. Contrariamente ao expediente mais fácil da negação, da autojustificação ou do cancelamento, a honestidade do reconhecimento e o ato humilde da confissão – é-se o que se é e o que se poderá vir a ser – fazem desta parábola húmus de enorme fecundidade.
O bom lugar desenha-se no espaço que se gera entre as quatro parábolas que, mantendo-se em tensão, se implicam e se corrigem, sem se confundirem nem se separarem. A “heresia” que fere o lugar e a sua bondade está na perda da polaridade, pela amálgama que anula a tensão no indistinto (tudo é igual e vale o mesmo, ou seja, nada tem valor) ou pela polarização que exacerba a tensão (para que um polo se afirme, o outro tem de ser eliminado). A “heresia” está no “só”, na absolutização ou na cristalização de um dos polos: ou só passado ou só futuro, ou só conservação ou só novidade, ou só monólogo ou só diálogo, ou só transcendência ou só imanência, ou só leveza ou só custo… Quem só vive da herança recebida, gozando dos rendimentos, sem investir ou sem se implicar no investimento que faz, ou quem só vive da memória do passado, dos seus mitos e heróis, que tende a idealizar, saudosista do que, supostamente, foi grande e se perdeu, do “então é que era”, “peca” contra a graça e a missão do tempo presente e contra o dever de edificar o futuro ainda por vir. Quem vive só no sonho do futuro que virá ou só do fascínio acrítico pelas novidades da “nova estação” – o que interessa é estar na moda –, como se pudesse cortar as raízes que o ligam à herança recebida, à história que o trouxe aonde se encontra, às coisas correntes do presente, ou quem acha, de modo ingénuo, que necessariamente, “tudo vai ficar bem”, sem ter de se implicar ativamente nesse bem desejado, “peca” contra a herança recebida e o dever de memória e “peca” também contra a fidelidade às pessoas, às coisas e aos lugares de agora, pelos quais é responsável. Quem vive só elevado sobre a própria altura, tende a perder o pé e a cabeça, na presunção da própria autonomia, das próprias qualidade e razões. Cultivando tanto o monólogo acaba por se tornar insensível aos apelos que lhe chegam de outros e de Outro e por se fechar ao bem que se gera no diálogo. Pelo contrário, quem se fecha na caverna da própria solidão e se rende às cadeias dos seus medos e limites, termina no apoucamento de si e na desistência da vida. Não se eleva ao inédito de tão agarrado que está ao chão das suas feridas e impossibilidades.
Como referíamos antes, as quatro parábolas servem de coordenadas para a avaliação e projeção da vida de uma pessoa, mas também de um projeto educativo, de um grupo social ou de uma igreja. Que lugar tem a memória histórica e que relação se cultiva com a tradição e com a cultura herdada? Como se perspetiva o futuro, se cultiva a liberdade e se promovem o compromisso, a criação e a criatividade? Como se cultiva o que abre, o que eleva, o que transcende, o que apela à corresponsabilidade pelos outros, pela comunidade, pela natureza? Como se lida com o limite, a complexidade e a contraditoriedade da vida e das relações e se dá um lugar justo aos desacertos, às feridas, aos desencontros? Em síntese, como é que a nossa humanidade comum se reconhece e se cultiva na memória do recebido, no investimento no porvir, na abertura ao que transcende, na confissão da finitude?
O bom lugar será um espaço humano de reconhecimento e de possibilidades, honesto e esperançoso, que se abre e que permanece aberto na tensão das parábolas: entre a origem e o destino, eu e o outro e tantos outros, o corpo e o espírito, a alma e a pele, a verdade e a liberdade, a memória e o desejo, a possibilidade e o limite, o prazer e a rotina, o sentido e os sentidos, o absoluto e o parcial, o definitivo e o provisório, o mais alto e o mais baixo de si, dos outros e da história, o dentro e o fora de si, dos outros e da história…, sem confusão nem separação. Mais do que um sítio fixo, ainda menos rígido, o bom lugar é um espaço aberto por múltiplas dinâmicas e correlações, desenhado e salvaguardado pelo modo distintivo de ser habitado. Por isso, assume sempre uma pluralidade de formas, reconhecíveis e habitáveis.
*
No presente número, a parábola do porvir confiado à liberdade revela-se particularmente sensível, com o risco de se desequilibrar em relação às heranças, à qualidade da palavra e do debate democrático, ao cuidado humano com os mais vulneráveis e periféricos, sejam pessoas, sejam países ou regiões do globo.
O artigo de Giovanni Cucci SJ, “Mataverso, algorítmos e ‘blockchain’”, expõe o mundo complexo e fascinante, mas também perturbador do metaverso, e os riscos reais que traz para qualidade das relações e das democracias. Neste cenário que já está a sair da ficção científica para a realidade quotidiana, querer implicar a liberdade no desenho do futuro pede determinação consciente de indivíduos, de sociedades e de poderes políticos, precisamente para não terem de se proteger do futuro, que parece impor-se como uma fatalidade amoral, quando pensam e desejam bons lugares para habitar que não sejam apenas bolhas protegidas e separadas.
Também Vasco Ressano Garcia, no ensaio “A meritocracia e os seus limites”, alerta para efeitos nocivos da mentalidade meritocrática para a forma como nos compreendemos e para o bem comum quando o mérito é absolutizado (“só” mérito) face a outras dimensões humanas como a gratuidade ou as inevitáveis diferenças naturais entre as pessoas.
Ainda como exemplos da relevância da tensão entre polos, os dois artigos que trazemos sobre o Brasil e, mais concretamente, sobre a Amazónia, “A agenda socioambiental do presidente Lula”, de Paulo Tadeu Barausse SJ, e “Três anos de Querida Amazónia”, de Lidiane Cristo, a partir das perspetivas políticas e eclesiais muito próprias que são assumidas pelos respetivos autores, chamam a atenção para o facto de que, para que o nosso planeta seja um bom lugar para habitar, já hoje e para as gerações futuras, urge assumir um especial compromisso com a “casa comum” e com a “fraternidade” (o Papa Francisco vai sendo especialmente enfático nesta dupla versão do mesmo apelo). No caso da Amazónia, pelo impacto que tem no resto do planeta, as tensões entre origem e porvir, altura e fundo revelam-se ainda mais sensíveis e mais necessárias de salvaguardar.
.png)

.%5B2%5D.png)
.png)
.%5B1%5D.png)
.png)
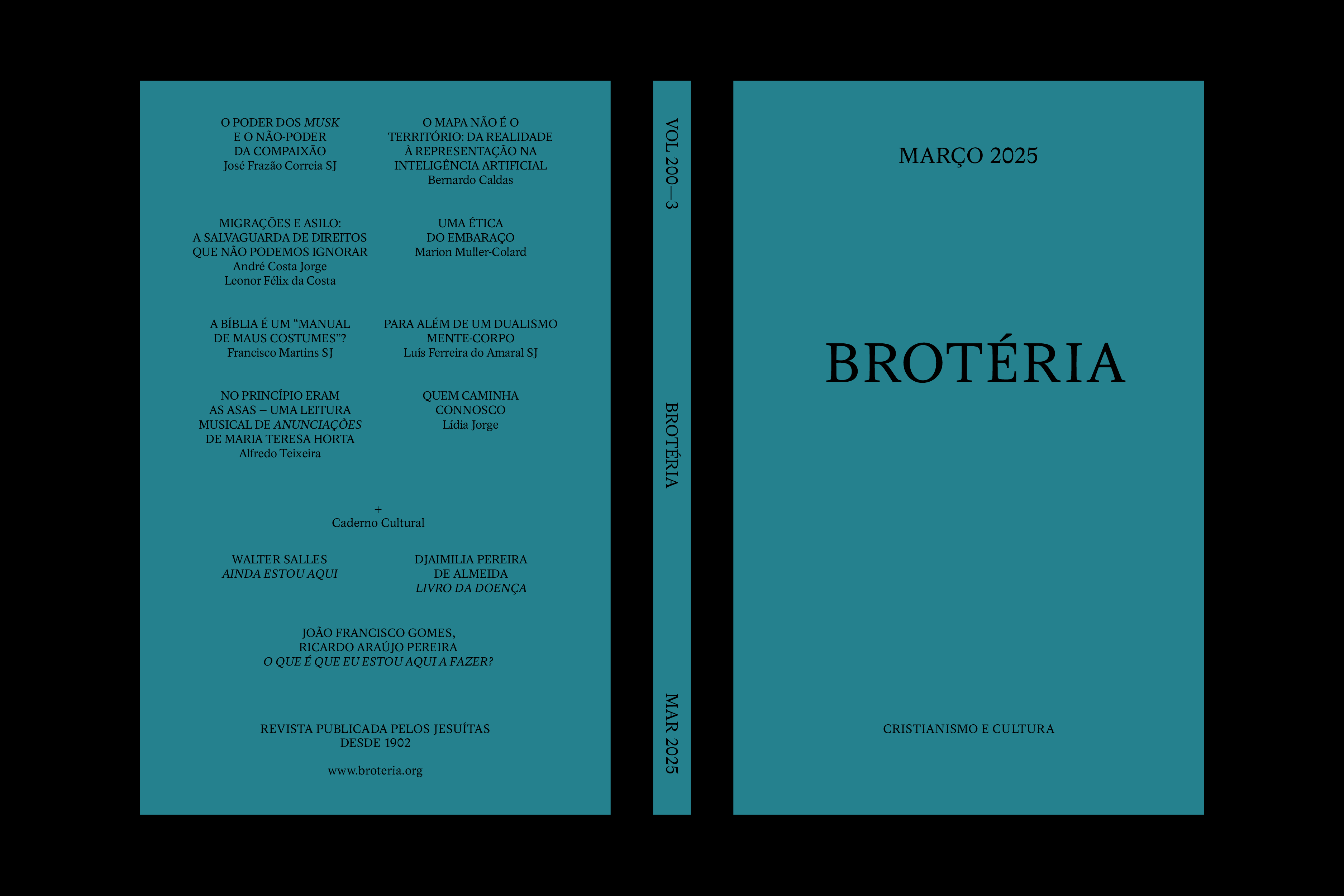
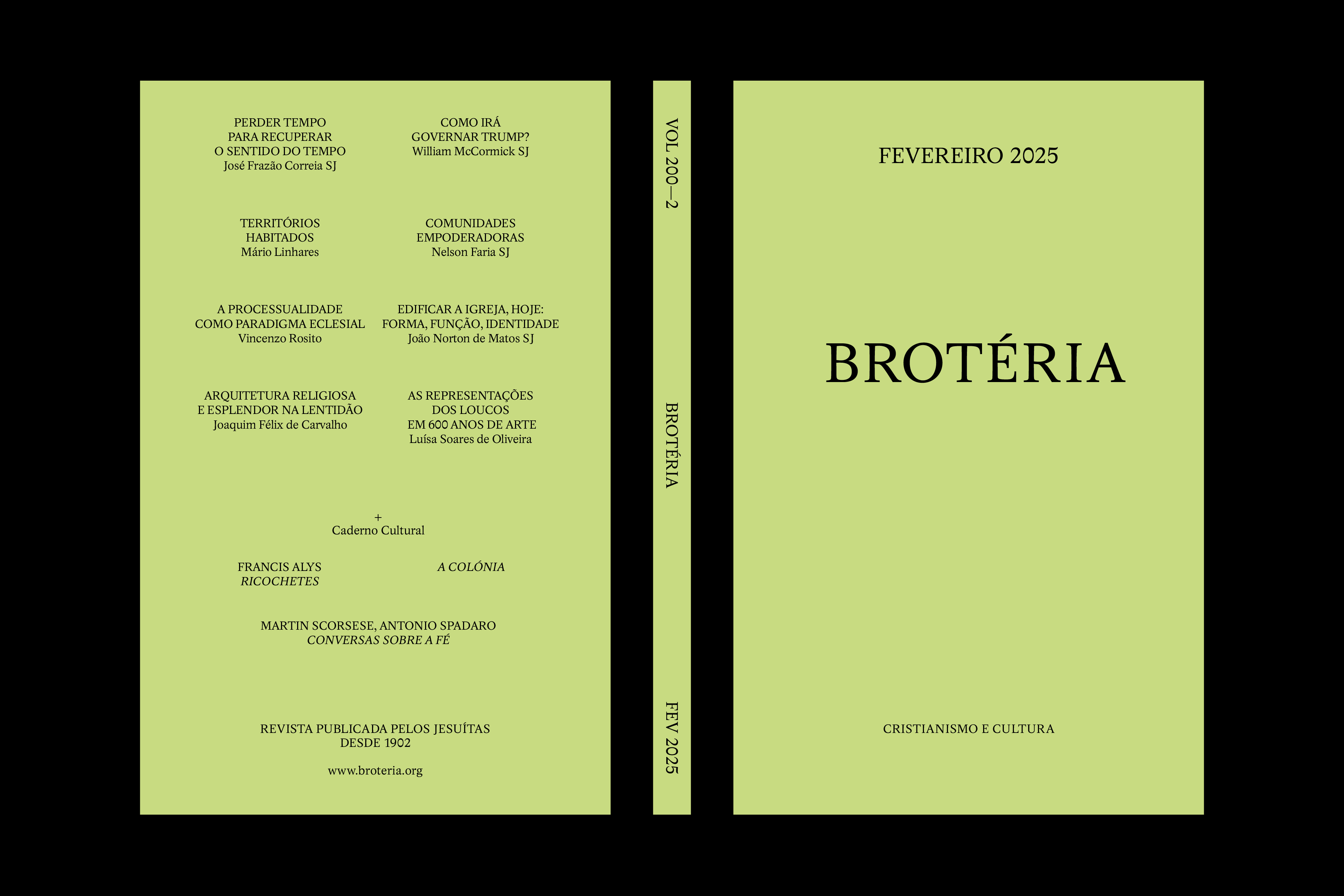
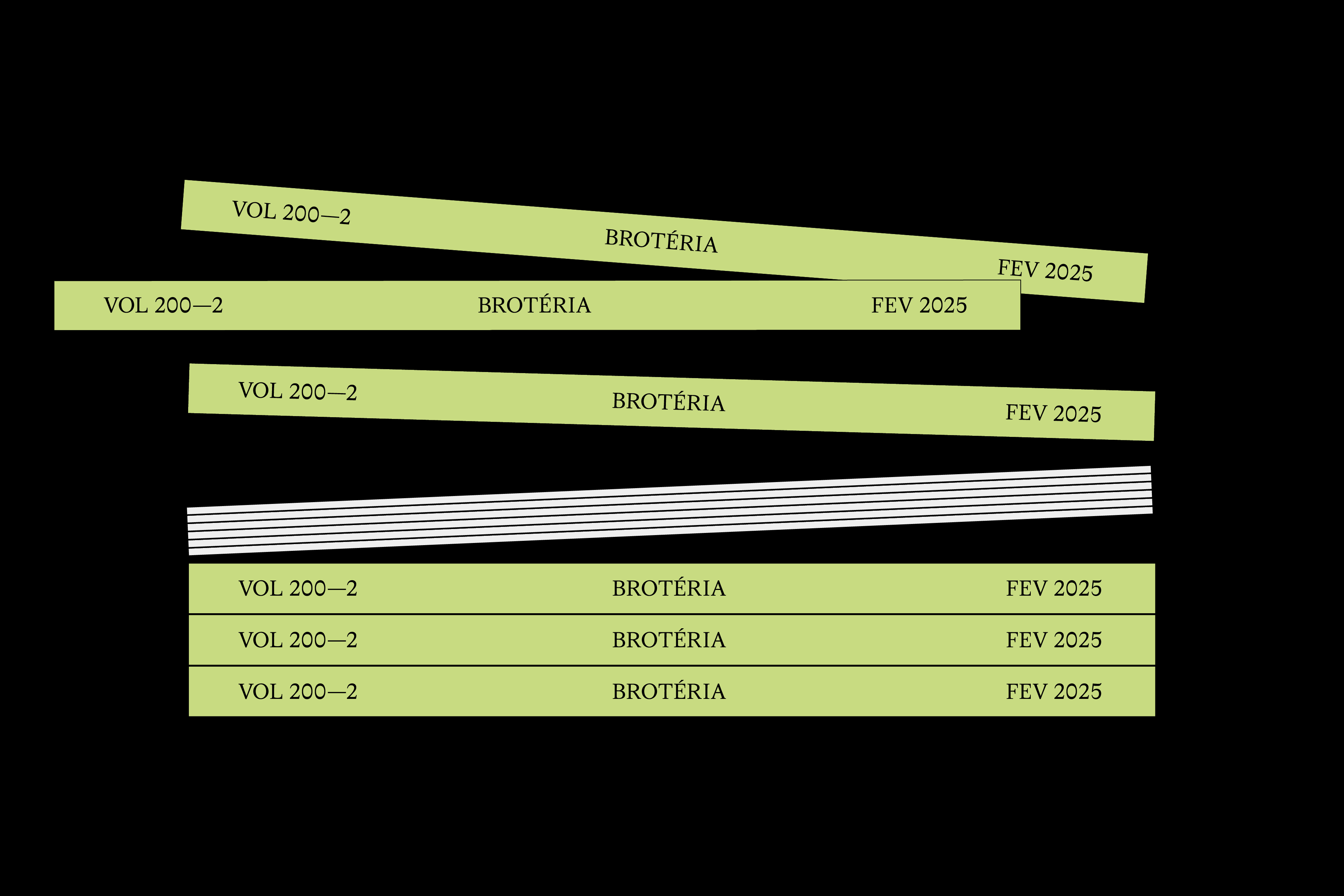
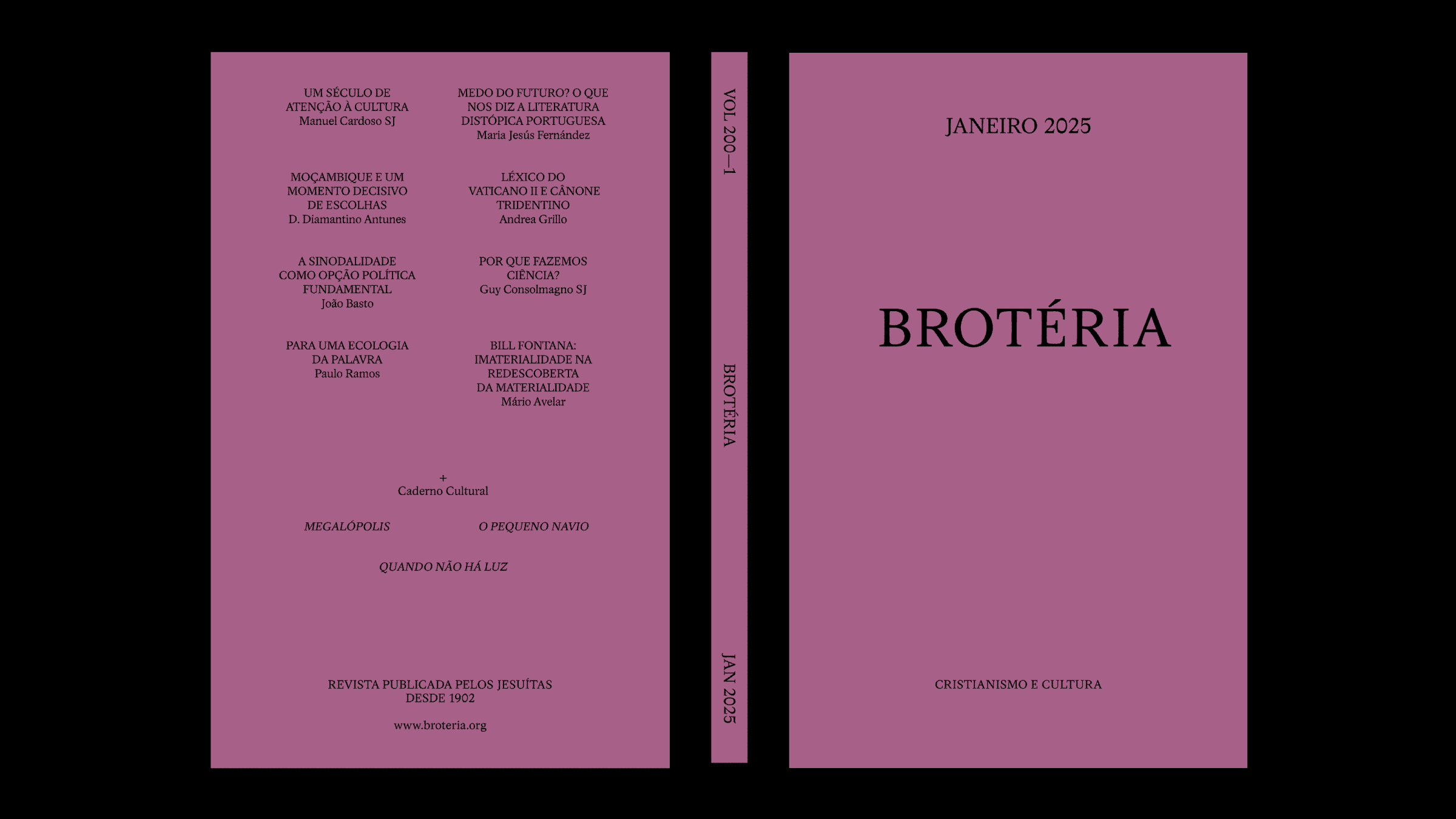
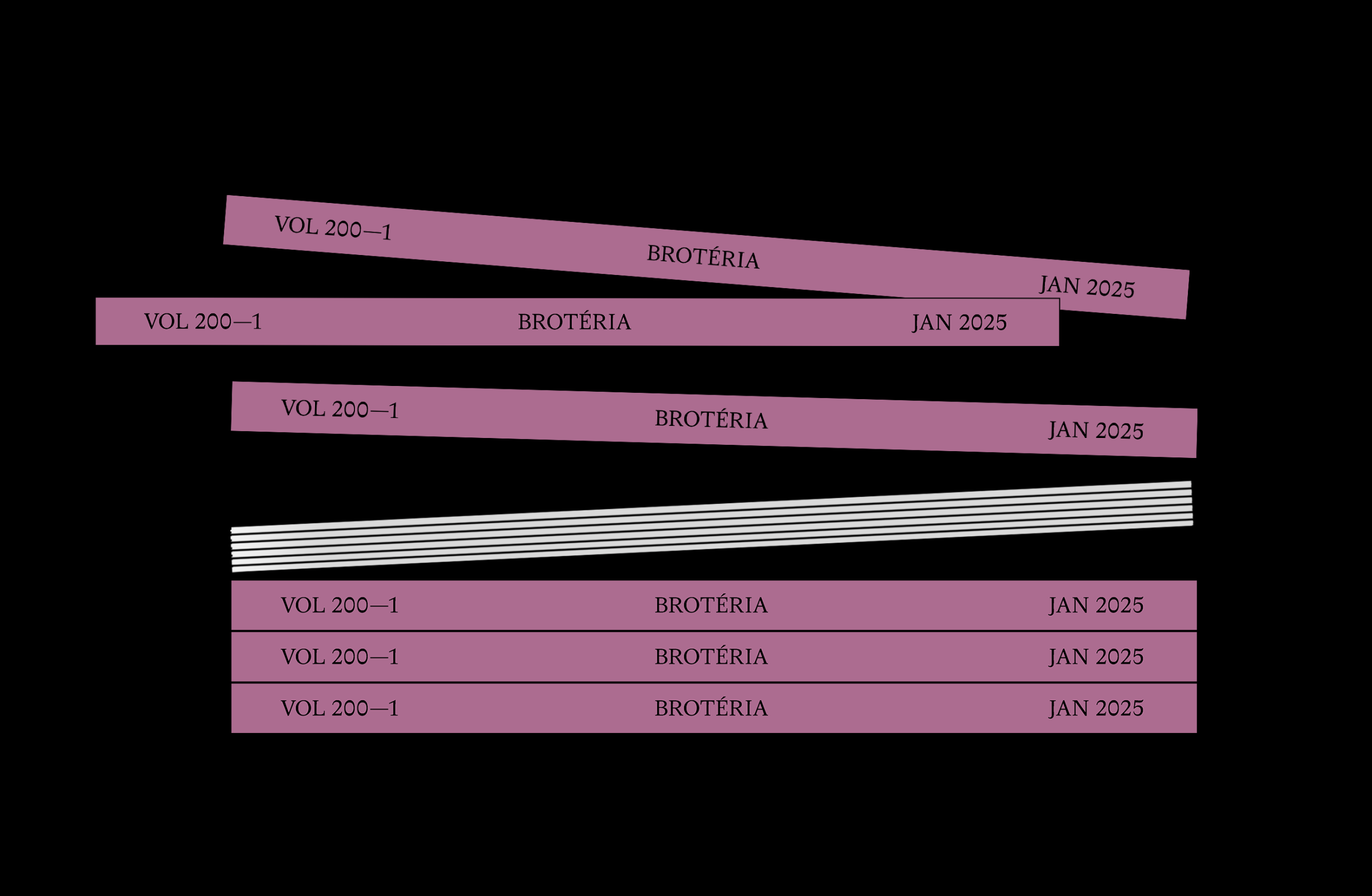





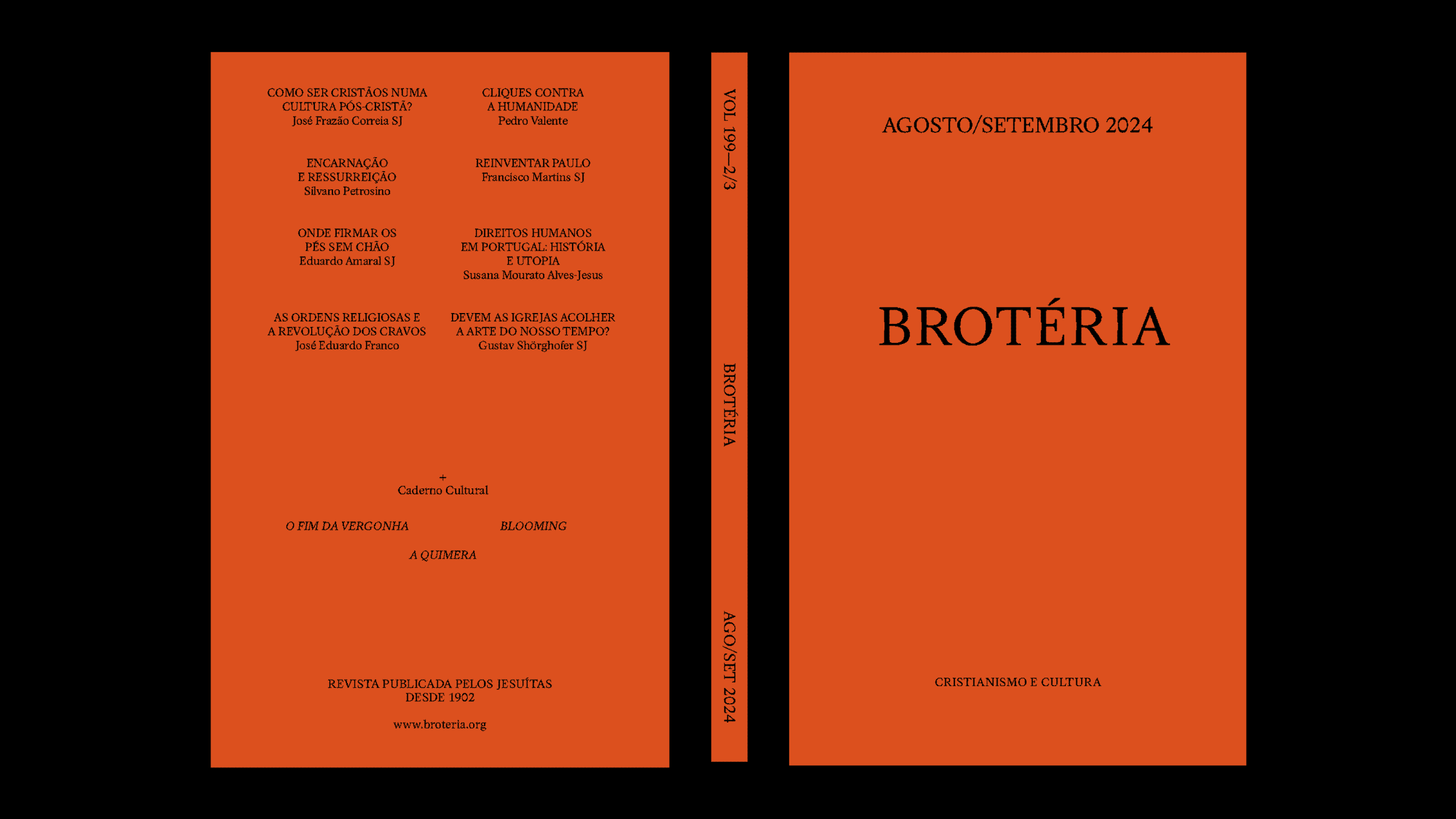
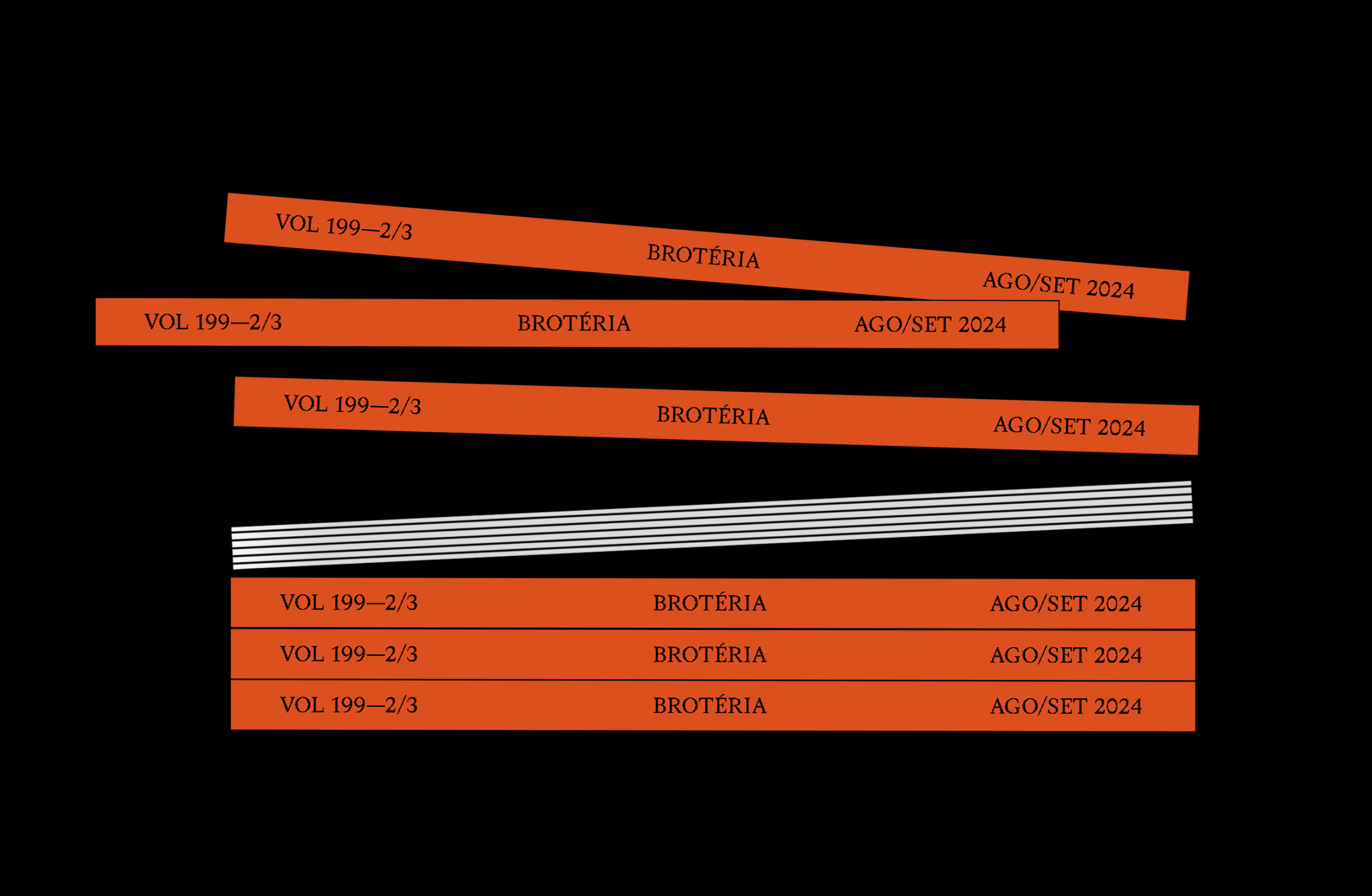







































 copy.jpg)









.jpg)




















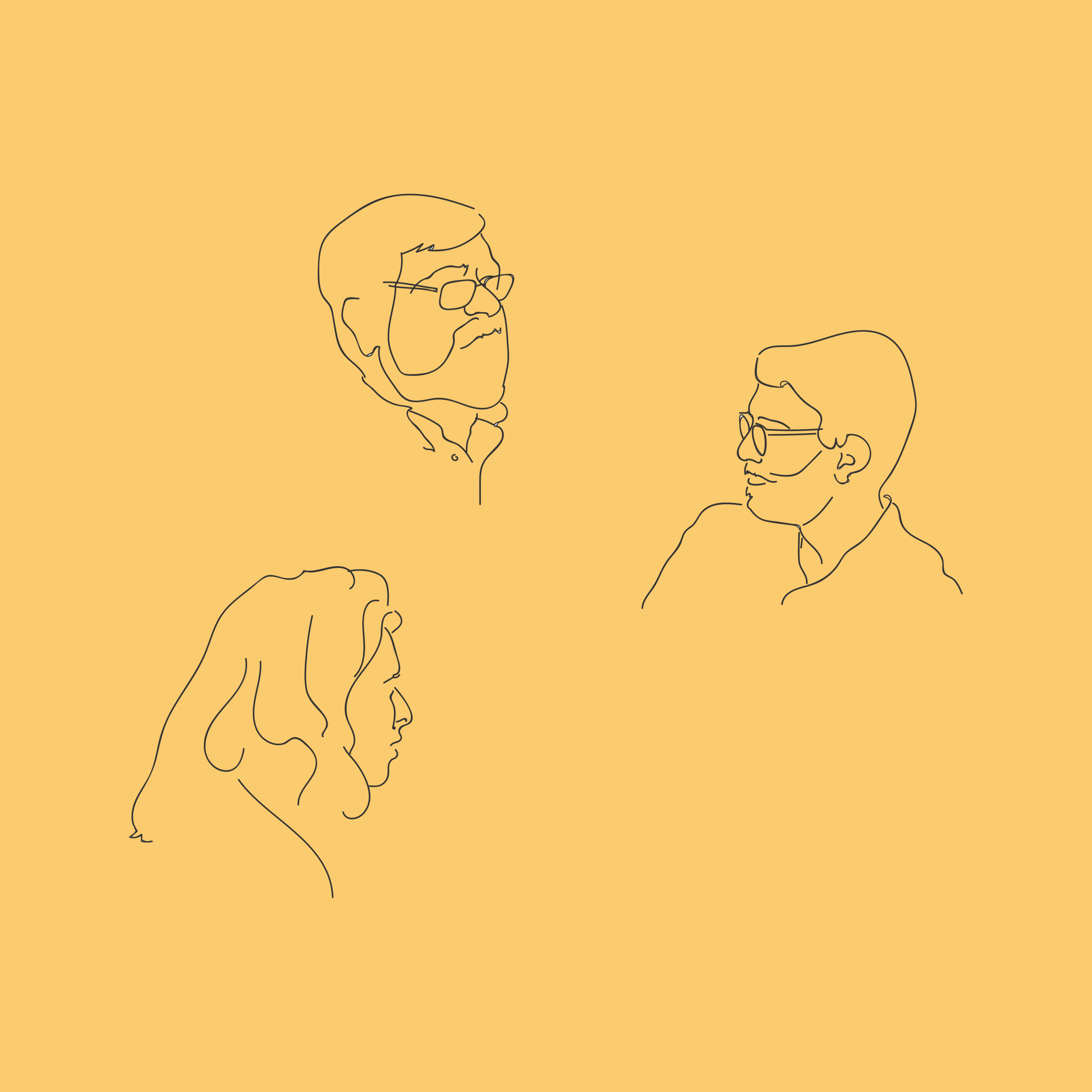





.jpg)
.jpg)
.jpg)


