

Fotografias: Nuno Félix da Costa




Daquilo que não vivi, é-me difícil falar, ainda mais diante de outros que efetivamente o experimentaram; cinco décadas oferecem já distância suficiente para relançar o olhar sobre os factos com a serenidade da prova do tempo. Parto daqui.
Pensei fazer sentido abrir este número de abril concentrando-me no reconhecimento de um outro olhar. Pressupondo que a história é sempre fragmentária, nunca absoluta, factos e imagens apresentam-se vivos diante da amnésia e da cristalização da perceção.
De norte a sul do país, visita-se nestas fotografias a preocupação sobre o que pode uma imagem guardar no seu interior. A seleção de imagens traz à luz um Portugal rural que passa sem sobressaltos aparentes, por esquecimentos intensos. Hoje permanecem algumas geografias da exclusão. “Cumprir abril” seria cumprir-se a mitologia otimista de um país para todos, onde não se tapasse o sol com a peneira de discursos políticos, económicos, de inovação tecnológica, qual banha da cobra vendida por quem parece nunca ter estado nem vir a estar disposto a abdicar de sondagens e de cifrões por um bem comum costurado pela atenção a um vizinho.
Qual é a identidade democrática, o imaginário social, a representação do que é ser coletivamente? O que é que poderemos evocar para que Abril não seja só uma conquista do passado sem futuro? Hoje, as lutas que mobilizam parecem ser dotadas de um carácter mais universalista. Provavelmente, são mais carregadas de utopias globais. Os problemas sociais são de cá. Contudo, por terem uma expressão mundial, são de todos e superam quaisquer categorias definidas por fronteiras geográficas. São os problemas de todos e de todos lugares ao mesmo tempo: o racismo, a autonomia dos povos, o género, o ambiente. Tocam a todos e, por isso, são incontornáveis. Contudo, o vizinho do piso em frente continuará com dor de dentes e sem possibilidade de ir à farmácia. Possivelmente, precisamos, hoje, de atender ao particular. Em dias de homogeneidade das redes, de leviandade de um pensamento efémero sobre a totalidade e a simultaneidade, o espaço cultural pede um enraizamento local, sem nacionalismos bafientos ou bacocos, que permita o reconhecimento de nos vermos a colher frutos da nossa própria história.
Na celebração da Revolução de Abril, sempre me pareceu haver uma certa desconfiança, um ceticismo lusitano, que até na memória quer ser brando; um qualquer provincianismo que entende que a história revolucionária estrangeira dá melhores filmes do que a nossa. Ainda bem que não desapareceram jovens, uns atrás dos outros, como noutras paragens. Ainda bem que não tiveram de ser arrastados pelo chão corpos de ditadores. Não houve sangue nesta revolução. Preferiram-se os cravos da senhora Celeste Caeiro que distribuiu pelos militares – por casualidade, trazia um molho deles do restaurante onde trabalhava e que nesse dia não abrira. Preferiu-se colocar flores no cano da G3. Contudo, não parece que tenha sido um gesto poético, mas de cansaço. Tinham-se visto e vivido histórias de enlouquecer nos matos de África. Já bastava. Um cansaço extremo de um regime que se extinguia agonicamente com enorme violência, mas noutros lugares distantes, por um esforço irónico, civil e militar, de querer a todo o custo um império impossível. Desfazia-se a coesão social, mas projetava-se uma arquitetura democrática expectante por laços determinantes. Hoje, na liberdade de nos fazermos revolução, o Presidente da República vem reafirmar, como fez no discurso de abertura das comemorações, que o “supremo senhor do 25 de abril chama-se povo.” Neste sentido, não se pode pactuar com vestígios intriguistas ou revisionismos parciais da história. Há que celebrar.
Volto às imagens. Todas as imagens são mudas e podem valer muito menos do que mil palavras, pois há palavras que abrem muitas imagens e outas tantas que nada nos dizem. Pode parecer que é mais fácil ver do que ler. Parece que basta ter olhos na cara, dado que a visão não carece de alfabetização. Contudo, as imagens fotográficas fixam parte daquilo que vemos; editam a realidade com intencionalidade. Por isso, embora capazes de as ver, nem sempre seremos suficientemente argutos nas suas leituras mais extensas.
A opção de trazer estas imagens de Nuno Félix da Costa está diretamente relacionada com o desejo de encontrar o tão necessário momento de imaginar. Pensar com imagens. Não tentar pensar um país ou uma revolução, nem tão pouco uma democracia – tudo isso seria demasiado para a página que abre uma revista mensal – mas escolher antes, intensionalmente, o recorte da realidade, marcados cinquenta anos de democracia, em arquivo aberto e vivo.
Estas imagens não são material etnográfico, nem procuram o rigor da tese. Não querem um antes e um depois que impressiona; querem apenas expandir as possibilidades da ficção. Fará sentido? Há, efetivamente, pelo trabalho de tantos, descontinuidades importantíssimas, mas talvez seja oportuno levantar a perplexidade de um tempo passado presente e pensar na operacionalidade das ideias políticas, como transformadores das paisagens sociais. Do ponto de vista daquilo que se vê, interessa sempre o pensamento sobre como é que a ideia e a ação podem redesenhar o rosto do mundo. Em alternativa, poder-se-ia procurar fotografar a Liberdade, inspirados e anestesiados pela retórica do discurso histórico e simbólico, perpetuando um ciclo de imagens-fetiche. O que gostava aqui de ver acontecer é o inverso: não é isso que estas imagens fazem. Aqui, as imagens congregam o olhar para serem, assim, carregadas de tempo e de espaço gerados pela impossibilidade de colocar tudo no realismo das fotografias, recolhidas de partes diferente do país entre 1972 e 1990. Estas imagens permanecem abertas e são um travão a fundo que nos pede a decifração do que ali se manifesta.
No cartaz que está atrás da criança, vemos um professor que afirma que a primeira lição, antes de todas as outras, será fazer o bilhete de identidade. A educação será da cabeça aos pés, sem que qualquer parte da fisiologia da alma fique por tratar. A escola está hoje tão longe de ser um laboratório da curiosidade, do espanto sobre o universo, do conhecimento que dilata a ignorância, para sabermos sempre e mais acerca do que não sabemos.
Numa sala de aula, numa cozinha, nas feridas, nos retratos num espelho de um consultório médico improvisado, produz-se em nós o estranho efeito das memórias de outros, aproximando-nos da experiência coletiva de participação. Será isso ser-se de um lugar ou de um povo? A portugalidade pode ser fazermos parte uns dos outros, superando as narrativas dos vencidos ou dos vencedores? Habituados à célere mudança, rodeados daquilo que se torna obsoleto, com estas imagens relembramos que não temos saudades da injustiça, dos silêncios programados cheios de controle e de censura, nem do sofrimento e da fome.
Aqui, os retratos têm com ponto de fuga vermos espelhados os outros, aqueles que viveram a força da reinterpretação da história ideológica de um território. Restitui-se assim uma possível face credível à História. Tecida pelos detalhes mais pequenos, como um frigorífico novo numa cozinha escura; ou na fotografia na qual não sabemos o que faz um vulto de luz correndo em direção a uma estrela apagada; uma criança de branco, um fantasma, uma fantasia, que brilha dentro de um vale; a estrela vazia e a figura que se semeia em luz. Assim, a imagem fotográfica ensina-nos a ver, a contrariar a diluição da superficialidade, pela devolução do olhar das figuras fotografadas.
Nestes trabalhos, o fotografo é perfeitamente consciente do perigo da manipulação, daquilo que é sensacionalista, da estetização da realidade, de tentar a comoção demasiado rápida que em nada mais faz desaguar do que num arrepio. Porque foge disso, a imagem enquadra-nos no silêncio do imaginável. Talvez imaginar possa ser isto: dar às imagens o nosso corpo, como devedores de gestos e de palavras herdadas. O contrário disto poderá ser a ingratidão do esquecimento.

.png)

.%5B2%5D.png)
.png)
.%5B1%5D.png)
.png)
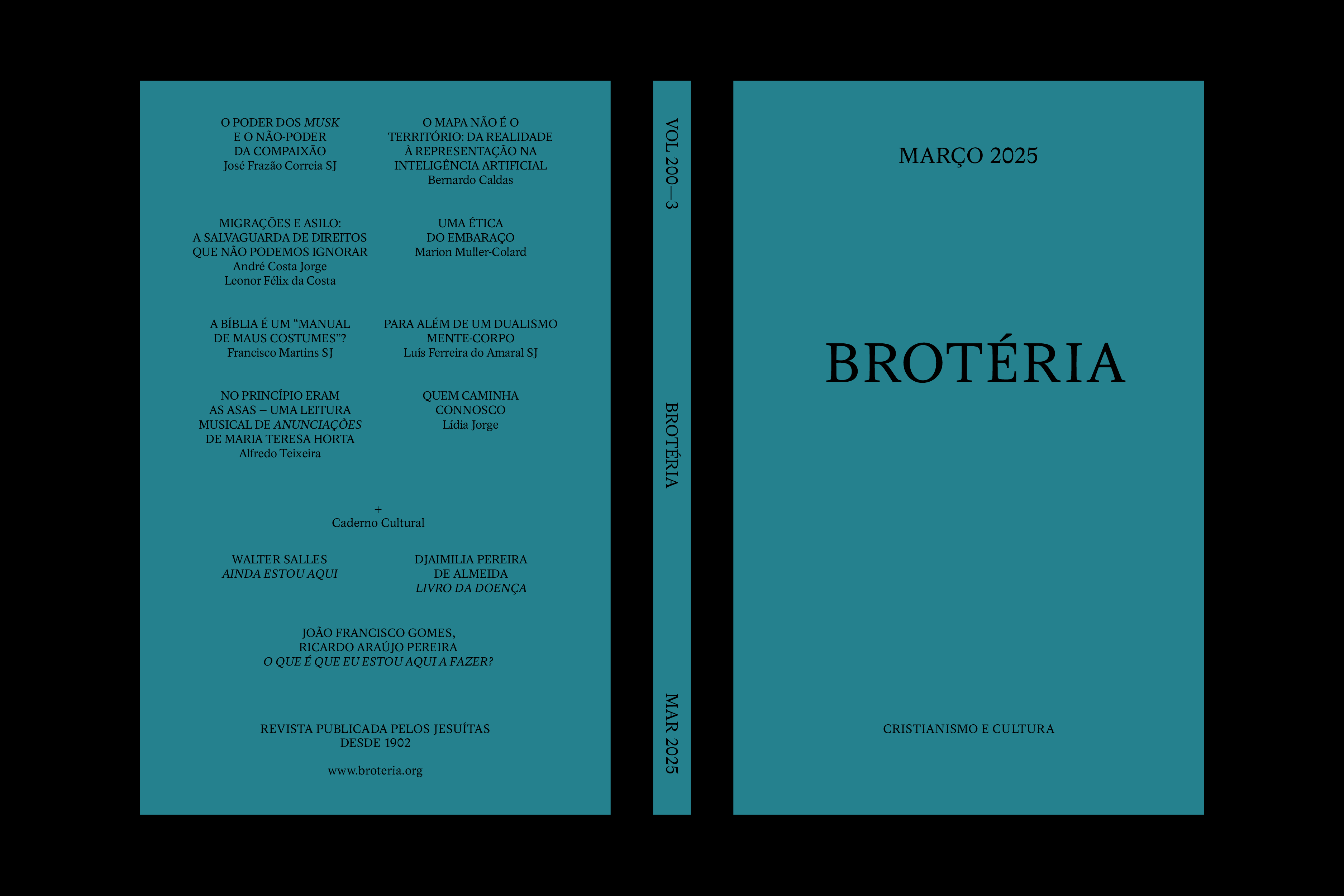
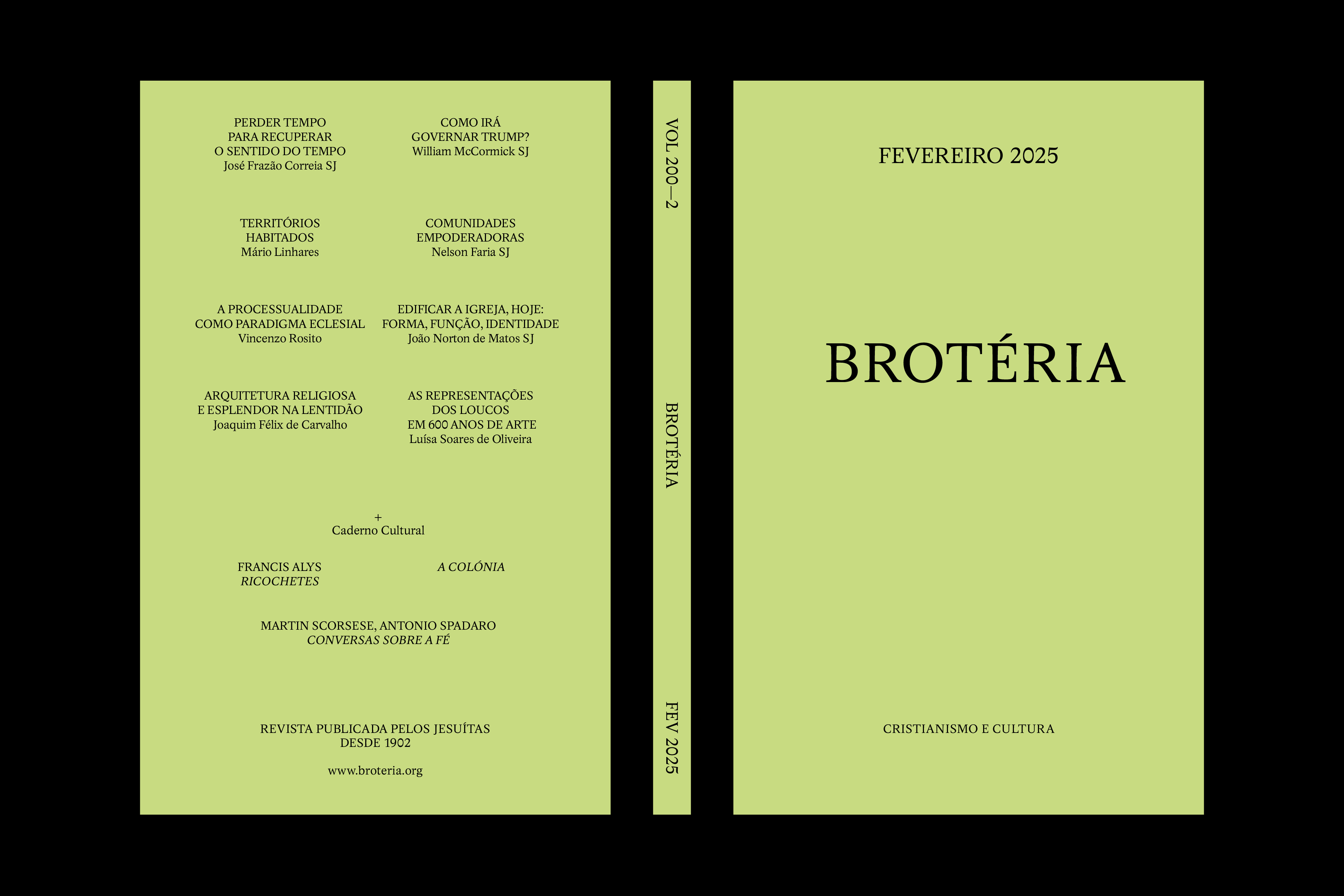
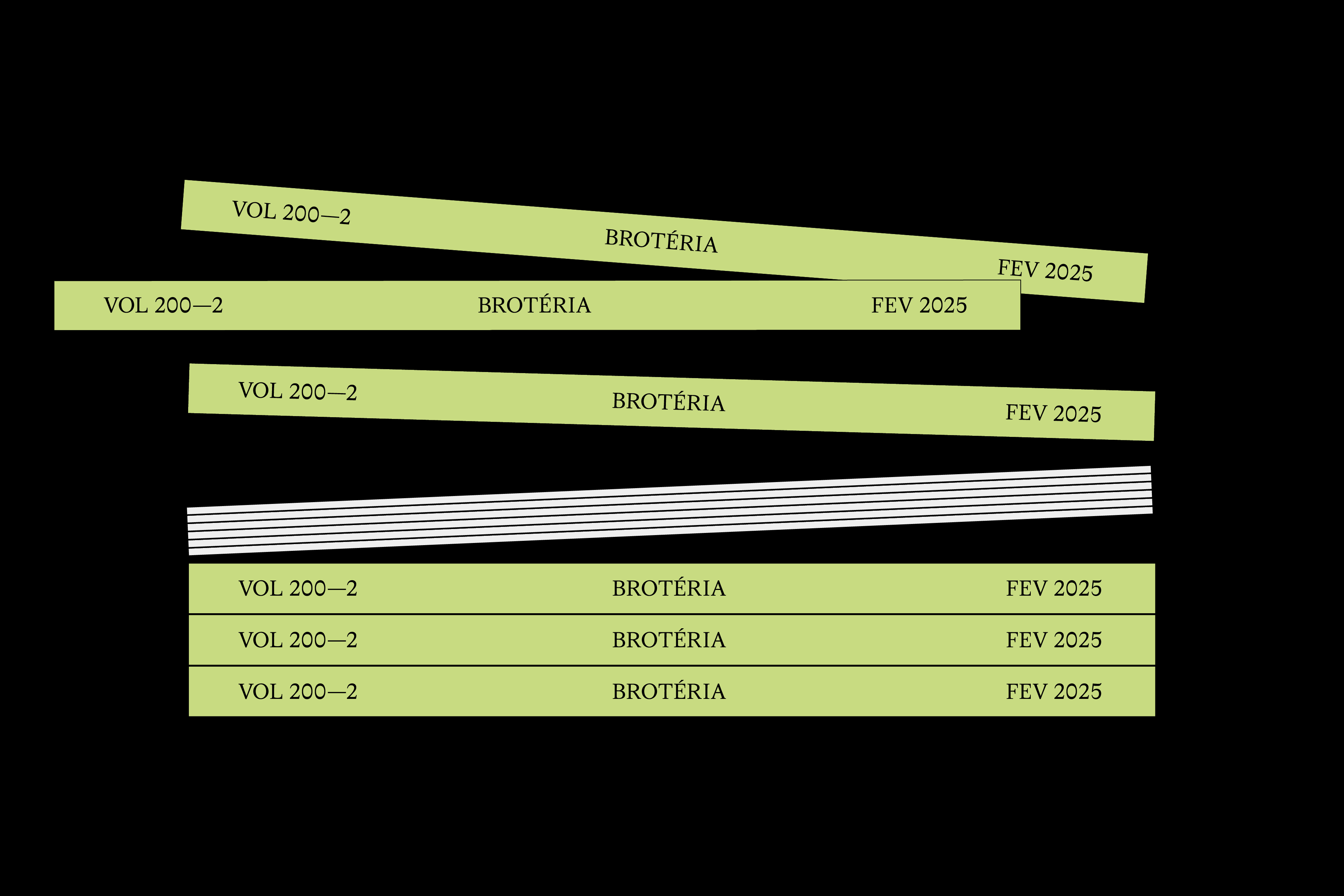
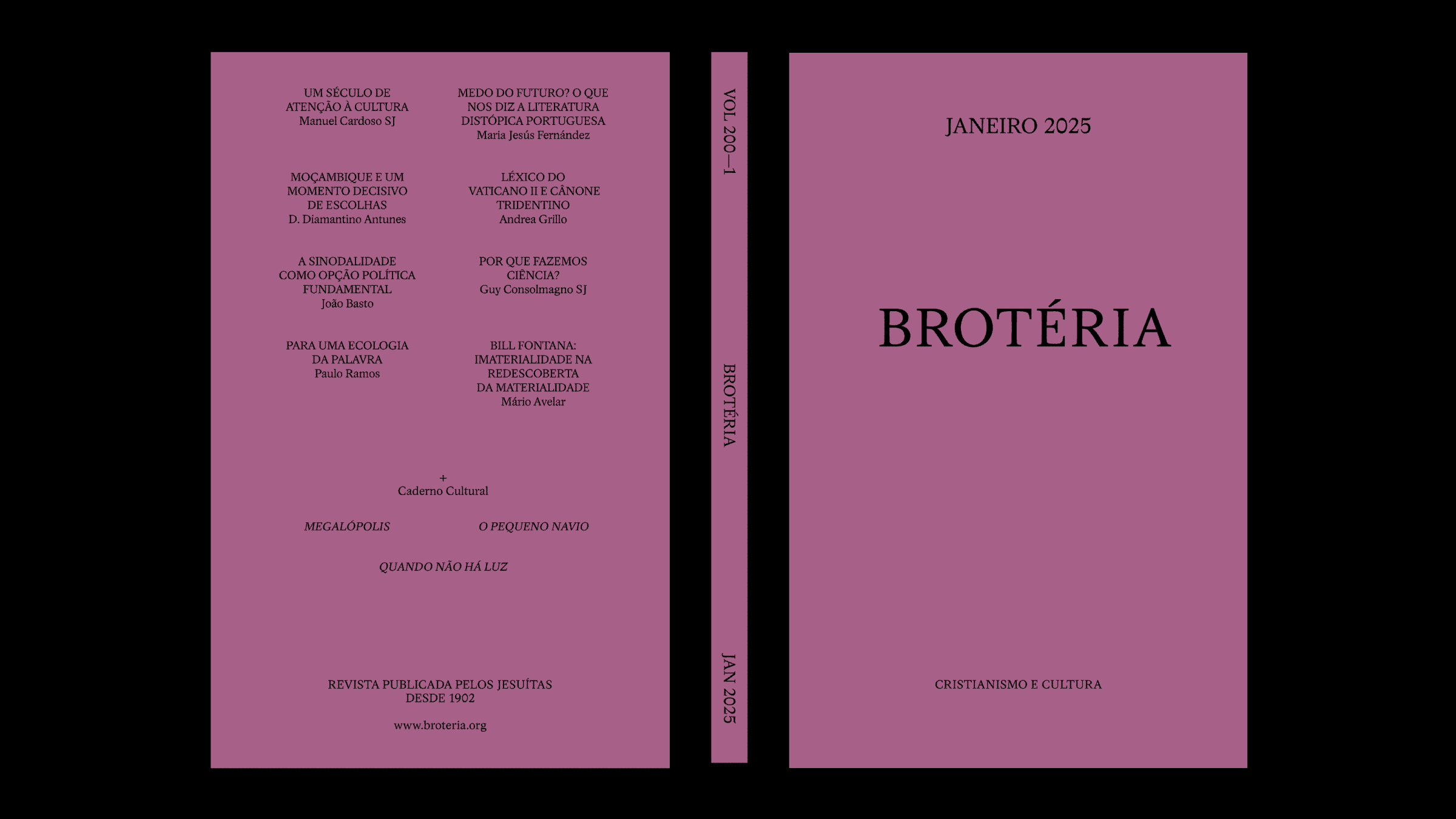
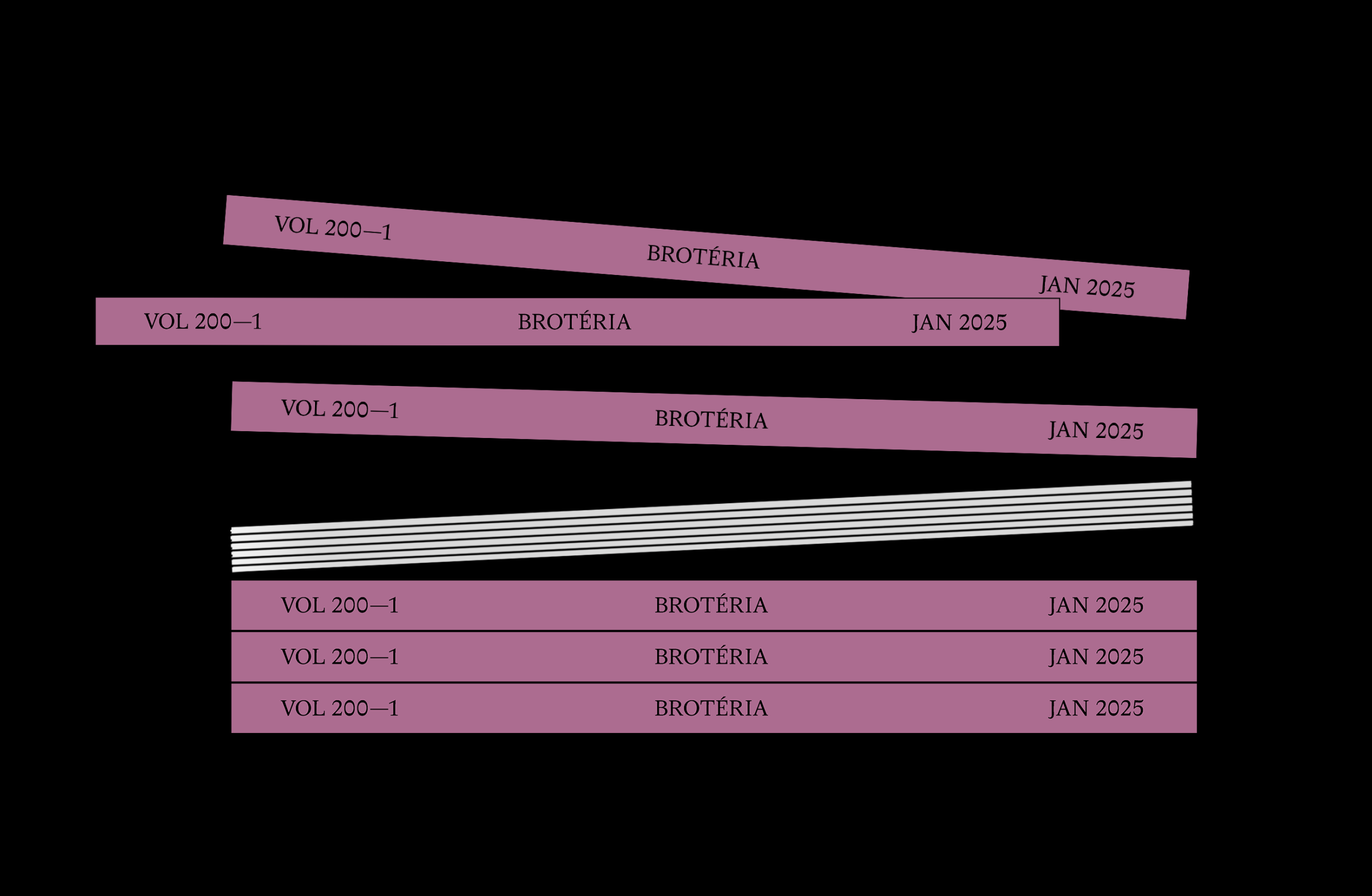





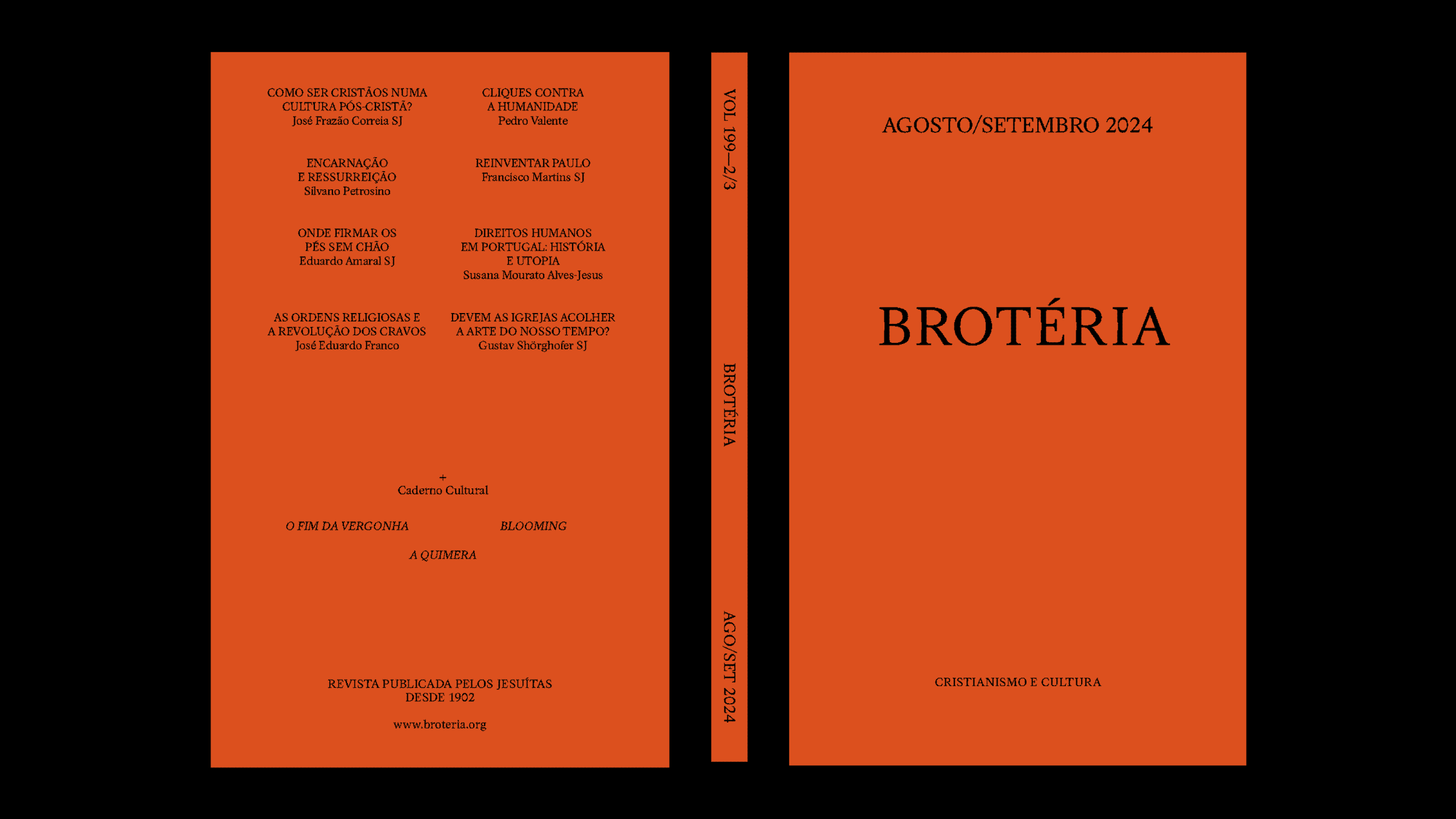
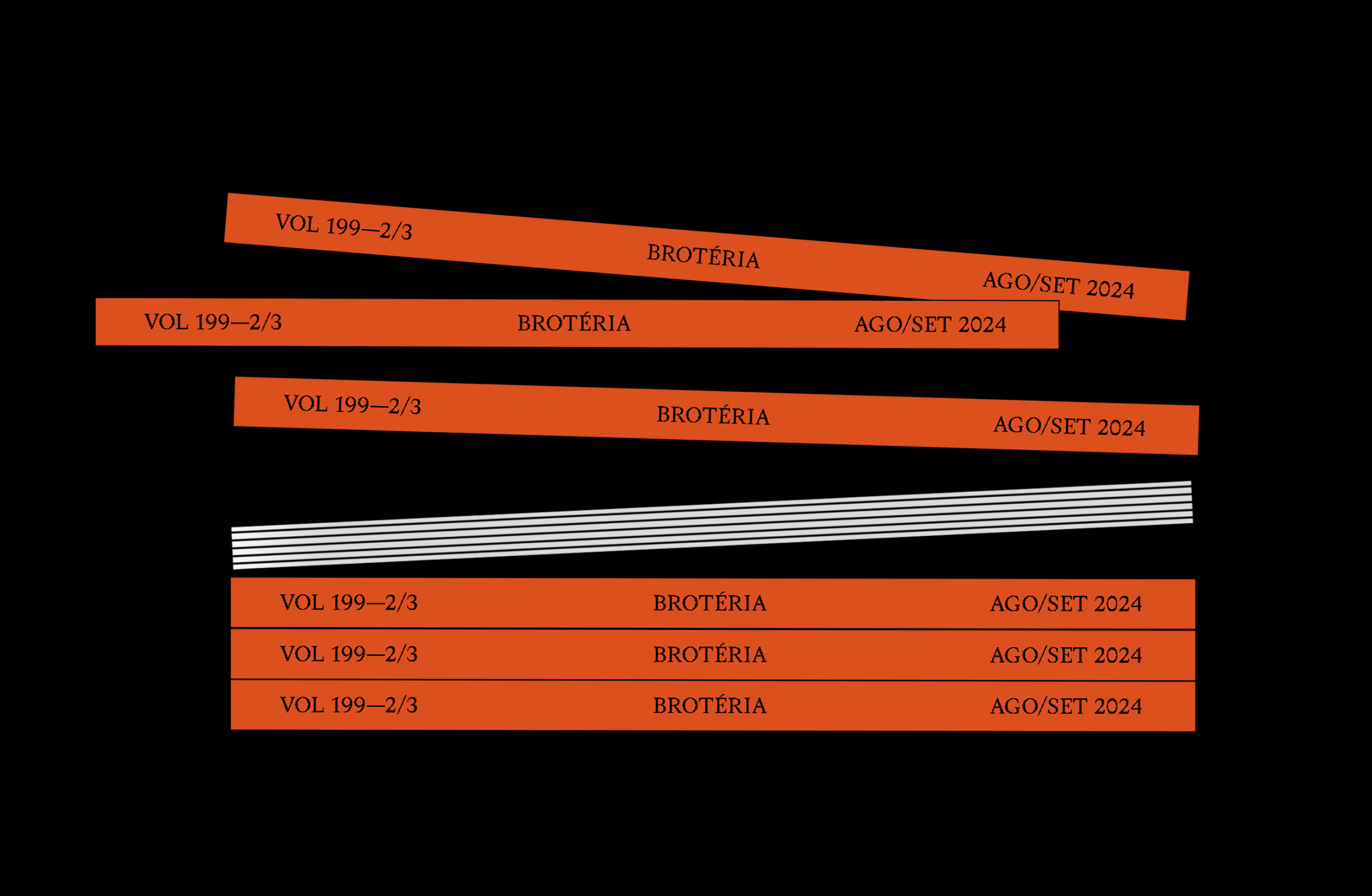







































 copy.jpg)









.jpg)




















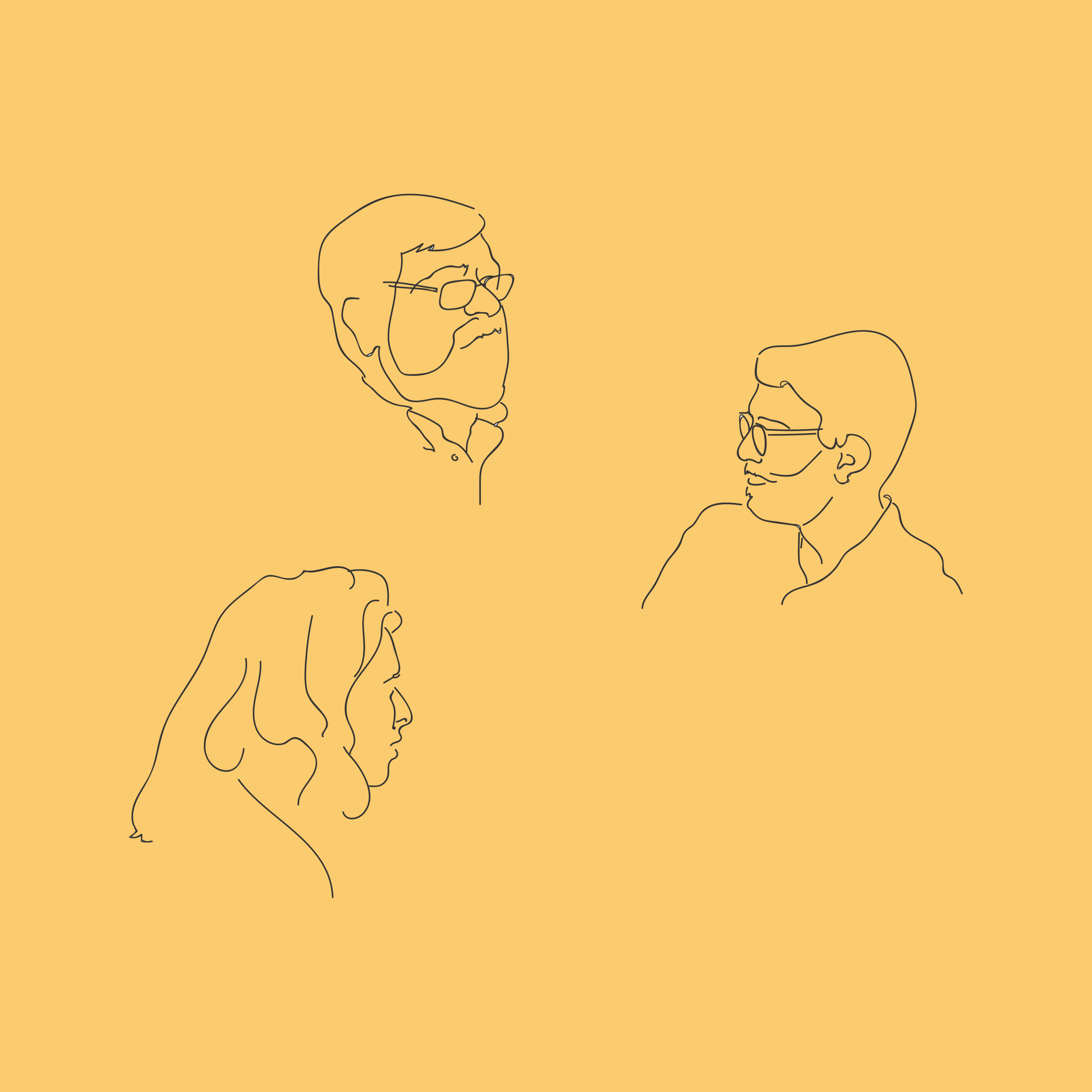





.jpg)
.jpg)
.jpg)


